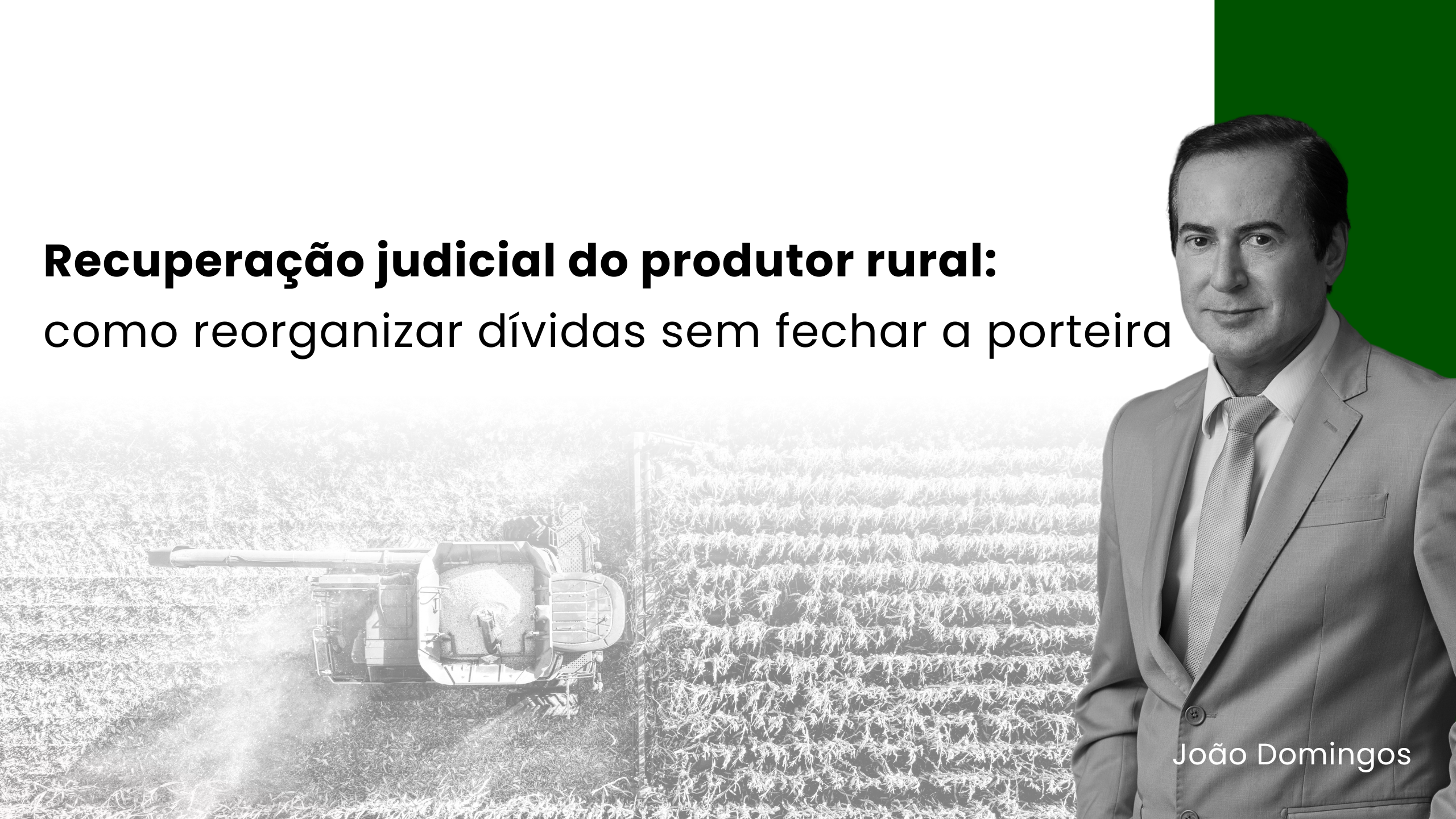A recuperação judicial virou palavra de ordem no campo porque o caixa apertou. Nos últimos ciclos, o crédito rural ficou mais difícil e caro; houve momentos de suspensão de novas contratações no Plano Safra 24/25; os preços de commodities oscilaram ao mesmo tempo em que o custo de insumos seguiu alto; o clima prejudicou produtividade; e muita dívida venceu toda junta, estrangulando o giro. Esse cenário apareceu nas estatísticas: pedidos de RJ ligados ao agro cresceram em 2024 e continuaram em alta em 2025, reflexo de crédito mais criterioso e margens pressionadas. Não é teoria: há dados públicos mostrando recordes e aumentos seguidos nesses pedidos, além de notas de entidades do setor sobre a suspensão temporária de linhas com subvenção.
Mas afinal, o que é a recuperação judicial? É um processo previsto em lei que dá ao produtor e a qualquer devedor empresarial a chance de reorganizar suas dívidas com proteção do Judiciário por um período determinado. Funciona assim: o devedor apresenta um plano com prazos, eventuais carências, forma de pagamento, garantias e regras claras; os credores votam; se aprovarem, esse plano passa a valer e vira o combinado oficial para todos. O objetivo não é “quebrar”, é manter a atividade funcionando e pagar do jeito que o caixa realmente comporta, por isso a lei fala em preservar a empresa/atividade produtiva. Esse mecanismo está na Lei 11.101/2005, que foi atualizada pela Lei 14.112/2020 para modernizar o sistema.
Para o produtor rural, houve uma mudança importante. Por anos, não estava claro se a pessoa física do campo podia pedir recuperação judicial, e muitos pedidos eram negados. Isso mudou: hoje, a regra está consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. O STJ fixou que o produtor pode requerer RJ se comprovar que exerce a atividade de forma empresarial há mais de dois anos e estiver inscrito na Junta Comercial no momento em que protocola o pedido, independentemente do tempo desse registro. Em outras palavras, o registro formal precisa existir na hora de entrar com o processo; e os “dois anos” se provam com documentos do dia a dia, LCDPR, notas fiscais, DIRPF, contratos, ITR/CCIR, entre outros. Essa virada é o Tema 1.145 do STJ, que pacificou o assunto no país.
Na prática, começar bem é meio caminho andado. Primeiro vem o diagnóstico: entender por que a conta não fecha (clima, preço, custo, câmbio, juros, estrutura das dívidas), listar credores e valores, enxergar o fluxo de caixa e o calendário da safra. Depois, juntar os documentos exigidos pela lei para o pedido inicial: exposição das causas da crise, relação completa de credores (com valores e natureza do crédito), provas de atividade por pelo menos dois anos, demonstrações ou documentos equivalentes que mostrem o financeiro, além da comprovação de que o produtor já está inscrito na Junta. Tudo isso entra no protocolo junto com a procuração e a qualificação. É comum o juiz pedir uma verificação inicial (a chamada constatação prévia) para conferir se a atividade existe de fato e se os requisitos estão em ordem.
Quando o juiz dá o sinal verde para processar a recuperação, começa a pausa das cobranças, conhecida como stay period. É uma suspensão das execuções e atos de cobrança por 180 dias corridos, com possibilidade de prorrogar mais 180 em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha causado a demora, a ideia é dar fôlego para organizar a casa, negociar de forma coletiva e preparar um plano sério. Essa pausa não é perdão, nem serve para “empurrar com a barriga”; é um tempo com proteção legal para desenhar uma saída pagável.
Uma dúvida recorrente é: o que entra e o que fica de fora do plano? Em geral, entram dívidas de capital de giro, investimentos (respeitando as regras de antiguidade e as condições do caso), fornecedores e créditos com garantias como hipoteca ou penhor, desde que não se enquadrem nas exceções da lei. Já algumas dívidas ficam fora dos efeitos da recuperação (são extraconcursais). Dois exemplos importantes no agro: créditos com alienação fiduciária, que têm regime próprio e, principalmente, a CPR vinculada a operação de barter (liquidação física), que não se submete aos efeitos do plano. O STJ reafirmou recentemente que a CPR física de barter fica fora da RJ, inclusive quando a execução muda de “entrega” para “pagamento em dinheiro” por falta de grão. Isso pesa na estratégia: se parte relevante do endividamento está em barter, o plano precisa considerar soluções por fora desse guarda-chuva.
Passada a fase de organização, vem o coração do processo: o plano de recuperação. Um plano que funciona fala a língua da safra. Significa prazos e carências que respeitem plantio, tratos e colheita; projeções realistas de produção, preço e custo; gatilhos que ajustem parcela se o mercado se mover demais (para cima ou para baixo); garantias que deem segurança sem travar bens essenciais; e transparência sobre de onde virá o caixa para pagar. Pode haver desconto (deságio) quando fizer sentido econômico e os credores toparem. O plano também organiza os credores por classes, o que ajuda a dar regras claras para cada perfil de dívida. Tudo isso é levado à assembleia, onde os credores votam. Aprovado, vira o combinado para todos; reprovado, é comum retomar conversas e ajustar a proposta para uma nova rodada, sempre com olho no que é executável no campo.
Outro ponto prático é como tocar a safra seguinte. No início do processo, a confiança de fornecedores pode balançar. Por isso, muita gente fecha contratos novos pós-RJ, com minutas mais seguras, prazos aderentes ao ciclo e garantias razoáveis. O plano dá previsibilidade, e previsibilidade ajuda a fechar insumo, semente, adubo, combustível, frete e serviços. Em cenários viáveis, existe ainda a figura do financiamento durante a recuperação (muitas vezes chamado de DIP), que, quando aparece, dá uma injeção de giro para manter a rotação do negócio. A bússola continua sendo a mesma: preservar a atividade e pagar com a renda que a atividade gera.
Também vale ajustar expectativas sobre o que a pausa protege e o que não protege. A suspensão alcança execuções e cobranças em geral, mas as execuções fiscais têm tratamento à parte e exigem instrumentos próprios (como transação ou parcelamentos específicos). Já os créditos fiduciários, como vimos, têm um regime que os retira do alcance do plano, e isso requer estratégia desde o início para proteger bens essenciais e não deixar a fazenda parada. O caminho é antecipar esses pontos no desenho do plano, para evitar surpresas no meio do caminho.
Erros comuns atrapalham a aprovação e a execução: documentação incompleta na largada; plano irreal, que ignora o calendário agrícola; esquecer dívidas que ficam fora do plano e não tratá-las por outra via; comunicação ruim com credores e fornecedores; e falta de governança mínima para acompanhar indicadores e cumprir marcos do cronograma. O contrário também é verdadeiro: quando o produtor entra cedo, organiza papelada, monta um plano pé no chão e conversa com clareza, as chances de aprovar e cumprir sobem muito.
Para fechar, é importante lembrar por que tanta gente do campo está usando esse instrumento agora. A combinação de crédito mais restrito ou suspenso em momentos chave, juros mais altos encarecendo subsídios, custos firmes e clima instável levou muitos a uma situação de pré-insolvência, mesmo produzindo bem. A recuperação judicial foi desenhada justamente para isso: dar um respiro com segurança jurídica, organizar as dívidas de forma coletiva, preservar empregos e a função social da atividade e permitir que o produtor atravesse a crise sem desmontar a fazenda. Hoje o produtor rural pessoa física pode acessar esse caminho, com regras claras: comprovar dois anos de atividade, estar inscrito na Junta no dia do pedido e apresentar um plano que caiba na fazenda e no bolso. É um processo exigente, mas, quando bem conduzido, devolve previsibilidade ao negócio e mantém a porteira aberta para as próximas safras.